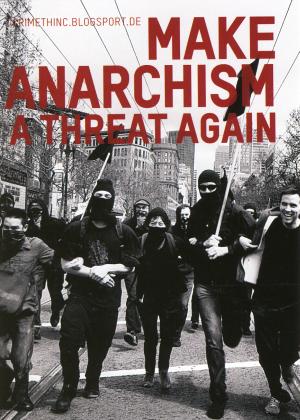Dando continuidade a série de reflexões sobre Anarquismo Negro, compilação organizada pela Rede de Informações Anarquistas atendendo a necessidade de seguir descolonizando o anarquismo, reproduzimos aqui a tradução de um texto escrito por Ashanti Alston, ex-Panteras Negras. Agradecemos a Mariana Santos, do Coletivo Das Lutas, pela tradução, que contou com apoio de Caralâmpio Trillas. O texto a seguir foi originalmente publicado no site do Das Lutas. Os outros dois textos da série podem ser encontrados aqui (relato da greve na UFRJ sob a perspectiva de um coletivo negro) e aqui (tradução de um texto de outro ex-Panteras Negras, Lorenzo Kom’boa Ervin).
 Muitos anarquistas clássicos consideravam o anarquismo como um corpo de verdades elementares que apenas precisavam ser reveladas ao mundo e acreditavam que as pessoas se tornariam anarquistas uma vez expostas à lógica irresistível da ideia. Esta é uma das razões pelas quais eles tendiam a ser tão didáticos.
Muitos anarquistas clássicos consideravam o anarquismo como um corpo de verdades elementares que apenas precisavam ser reveladas ao mundo e acreditavam que as pessoas se tornariam anarquistas uma vez expostas à lógica irresistível da ideia. Esta é uma das razões pelas quais eles tendiam a ser tão didáticos.
Felizmente a prática vivida do movimento anarquista é muito mais rica do que isso. Poucos “convertem-se” de tal forma: é muito mais comum que as pessoas abracem o anarquismo lentamente, à medida que descobrem que é relevante para a sua experiência de vida e permeável a suas próprias percepções e preocupações.
A riqueza da tradição anarquista está justamente na longa história de encontros entre dissidentes não-anarquistas e o quadro anarquista que herdamos do final do Século XIX e início do Século XX. O anarquismo tem crescido através de tais encontros e agora enfrenta contradições sociais que antes eram marginais ao movimento. Por exemplo, há um século atrás, a luta contra o patriarcado era uma preocupação relativamente menor para a maioria dos anarquistas, mas hoje é amplamente aceita como uma parte integrante da nossa luta contra a dominação.
Foi somente nos últimos 10 ou 15 anos que os anarquistas na América do Norte começaram a explorar à sério o que significa desenvolver um anarquismo que tanto pode combater a supremacia branca como articular uma visão positiva da diversidade cultural e de intercâmbio cultural. Camaradas estão trabalhando duro para identificar os referenciais históricos de tal tarefa, como o nosso movimento deve mudar para abraçá-lo, e como um anarquismo verdadeiramente antirracista pode parecer.
O seguinte material, de Ashanti Alston, membro do conselho do IAS, explora algumas destas questões. Alston, que era membro do Partido dos Panteras Negras e do Exército Negro de Libertação, descreve o(s) seu(s) encontro(s) com o anarquismo (que começou quando ele foi preso por atividades relacionadas com o Exército Negro de Libertação). Ele toca em algumas das limitações das visões mais antigas do anarquismo, a relevância contemporânea do anarquismo para os negros, e alguns dos princípios necessários para construir um novo movimento revolucionário.
Esta é uma transcrição editada de uma palestra dada por Alston em 24 de outubro de 2003 no Hunter College, em Nova York. O evento foi organizado pelo Instituto de Estudos Anarquistas e co-patrocinado pelo Movimento Estudantil de Ação Libertadora, da Universidade de Cidade de Nova York ~ Chuck Morse
Embora o Partido dos Panteras Negras fosse muito hierárquico, eu aprendi muito com a minha experiência na organização. Acima de tudo, nos Panteras me marcou a necessidade de aprender com as lutas de outros povos. Eu acho que tenho feito isso e essa é uma das razões pelas quais sou um anarquista hoje. Afinal, quando velhas estratégias não funcionam, precisamos olhar para outras formas de fazer as coisas, para ver se podemos nos descolar e avançar novamente. Nos Panteras, absorvemos muita coisa de nacionalistas, marxistas-leninistas, e de outros como eles, mas suas abordagens para a mudança social tinham problemas significativos e me aprofundei no anarquismo para ver se haviam outras maneiras de pensar sobre como fazer uma revolução.
Eu aprendi sobre anarquismo através de cartas e de literatura enviadas para mim, enquanto estava em várias prisões por todo o país. No começo eu não queria ler qualquer material que recebi – parecia que o anarquismo era apenas sobre o caos e todo mundo fazendo suas próprias coisas – e por muito tempo eu o ignorei. Mas houve momentos – quando eu estava na solitária – que não tinha mais nada para ler e, para fugir do tédio, finalmente comecei a meter a mão no tema (apesar de tudo o que eu tinha ouvido falar sobre o anarquismo até o momento). Fiquei realmente muito surpreso ao encontrar análises de lutas populares, culturas populares e formas de organizações populares – aquilo fez muito sentido para mim.
Estas análises me ajudaram a ver coisas importantes sobre a minha experiência nos Panteras que não estavam claras para mim antes. Por exemplo, eu pensei que havia um problema com a minha admiração por pessoas como Huey P. Newton, Bobby Seal, e Eldridge Cleaver e com o fato de que eu os tinha colocado em um pedestal. Afinal de contas, o que isso diz sobre você, se você permitir que alguém se estabeleça como seu líder e tome todas as suas decisões por você? O anarquismo me ajudou a ver que você, como um indivíduo, deve ser respeitado e que ninguém é suficientemente importante para pensar por você. Mesmo que nós achemos que Huey P. Newton ou Eldridge Cleaver são os piores revolucionários do mundo, eu deveria me ver como o pior revolucionário, exatamente como eles. Mesmo que eu fosse jovem, tenho um cérebro. Eu posso pensar. Eu posso tomar decisões.
Eu pensei em tudo isso enquanto estava na prisão e me vi dizendo: “Cara, nós realmente nos colocamos de uma forma que éramos obrigados a criar problemas e produzir cismas. Fomos obrigados a seguir programas sem pensar”. A história do Partido dos Panteras Negras, tão incrível como é, tem esses esqueletos. A menor pessoa no totem deveria ser um trabalhador e o que estava na parte superior era quem tinha o cérebro. Mas na prisão eu aprendi que eu poderia ter tomado algumas dessas decisões sozinho e que as pessoas ao meu redor poderiam ter tomado essas mesmas decisões. Embora eu tenha apreço por tudo o que os líderes do Partido dos Panteras Negras fizeram, eu comecei a ver que podemos fazer as coisas de forma diferente e, assim, extrair mais plenamente nossas próprias potencialidades e nos encaminharmos ainda mais para uma autodeterminação real. Embora não tenha sido fácil no início, insisti com o material anarquista e descobri que eu não poderia colocá-lo de lado, uma vez que começou a me dar vislumbres. Eu escrevi para pessoas em Detroit e no Canadá, que tinham me enviado a literatura, e pedi para que me enviassem mais.
No entanto, nada do que eu recebi tratava de pessoas negras ou latinas. Talvez houvesse discussões ocasionais sobre a Revolução Mexicana, mas nada falava de nós, aqui, nos Estados Unidos. Houve uma ênfase esmagadora sobre aqueles que se tornaram os anarquistas fundadores – Bakunin, Kropotkin, e alguns outros – mas estes valores europeus, que abordavam as lutas europeias, realmente não dialogavam comigo.
Eu tentei descobrir como isso se aplicava a mim. Comecei a olhar para a História Negra de novo, para a História Africana, e as histórias e lutas das outras pessoas de cor. Eu encontrei muitos exemplos de práticas anarquistas nas sociedades não europeias, desde os tempos mais antigos até o presente. Isso foi muito importante para mim: eu precisava saber que não eram apenas os europeus que poderiam funcionar de uma forma antiautoritária, mas que todos nós podemos.

Fui encorajado por coisas que eu encontrei na África – não tanto pelas antigas formas que chamamos de tribos – mas por lutas modernas que ocorreram no Zimbabwe, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Ainda que fossem liderados por organizações vanguardistas, eu vi que as pessoas estavam construindo comunidades democráticas radicais na base. Pela primeira vez, nesses contextos coloniais, os povos africanos estavam criando o que era chamado pelos angolanos de “poder popular”. Este poder popular tomou uma forma muito antiautoritária: as pessoas não estavam só conduzindo suas vidas, mas também as transformando enquanto lutavam contra qualquer poder estrangeiro que os oprimia. No entanto, em cada uma dessas lutas de libertação, novas estruturas repressivas foram impostas logo que as pessoas chegavam próximo à libertação: a liderança estava obcecada com idéias de governança, em estabelecer um exército permanente, em controlar as pessoas depois que os opressores forem expulsos. Uma vez que a tão apregoada vitória foi conseguida, o povo – que havia lutado durante anos contra os seus opressores – foi desarmado e, em vez de existir um poder popular real, um novo partido foi instalado no comando do Estado. Assim, não houve reais revoluções ou a verdadeira libertação em Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e Zimbabwe, porque eles simplesmente substituíram um opressor estrangeiro por um opressor nativo.
Então, aqui estou eu, nos Estados Unidos, lutando pela libertação negra e me perguntando: como é que podemos evitar situações como essa? O anarquismo me deu uma maneira de responder a esta questão, insistindo que nós ponhamos no lugar, como fazemos em nossa luta agora, as estruturas de tomada de decisões e de fazer coisas que continuamente tragam mais pessoas para o processo, e não apenas deixar a maioria das pessoas “iluminadas” tomarem decisões por todos os outros. O próprio povo tem que criar estruturas em que articulem sua própria voz e em que tomem suas próprias decisões. Eu não recebi isso de outras ideologias: eu recebi isso do anarquismo.
Também comecei a ver, na prática, que as estruturas anarquistas de tomada de decisão são possíveis. Por exemplo, nos protestos contra a Convenção Nacional Republicana, em agosto de 2000, eu vi os grupos normalmente excluídos – pessoas de cor, mulheres e gays – participarem ativamente de todos os aspectos da mobilização. Nós não permitimos que pequenos grupos tomassem decisões por outros e, apesar de as pessoas terem diferenças, elas eram vistas como boas e benéficas. Era novo para mim, depois da minha experiência nos Panteras, estar em uma situação onde as pessoas não estão tentando disputar o mesmo lugar e realmente abraçam a tentativa de resolver nossos interesses por vezes contraditórios. Isso me deu algumas idéias sobre como o anarquismo pode ser aplicado.
Também me fez pensar: se pode ser aplicado para os diversos grupos no protesto contra a Convenção, poderia eu, como um ativista negro, aplicar essas coisas na comunidade negra?
Algumas de nossas idéias sobre quem somos como povo bloqueiam nossas lutas. Por exemplo, a comunidade negra é muitas vezes considerada um grupo monolítico, mas na verdade é uma comunidade de comunidades com muitos interesses diferentes. Penso em ser negro não tanto como uma categoria étnica, mas como uma força de oposição ou como pedra de toque para ver as coisas de forma diferente. A cultura negra sempre foi opositora e tudo isso é a busca de caminhos para criativamente resistir à opressão aqui, no país mais racista do mundo. Então, quando eu falo de um Anarquismo Negro, não está tão ligado à cor da minha pele, mas quem eu sou como pessoa, como alguém que pode resistir, quem pode enxergar de uma forma diferente quando eu estou bloqueado e, assim, viver de forma diferente.
O que é importante para mim sobre o anarquismo é a sua insistência de que você nunca deve ficar preso em velhas e obsoletas abordagens e sempre deve tentar encontrar novas maneiras de ver as coisas, de sentir e de se organizar. No meu caso, eu apliquei pela primeira vez o anarquismo no início de 1990 em um coletivo que criamos para rodar o jornal dos Panteras Negras novamente. Eu ainda era um anarquista “no armário” neste momento. Eu ainda não estava pronto para sair e me declarar um anarquista, porque eu já sabia o que as pessoas iriam dizer e como eles iriam olhar para mim. Quem eles veriam quando digo “anarquista”? Eles veriam os anarquistas brancos, com todos aqueles cabelos engraçados, etc. e dizer “como diabos é que você vai se envolver com isso?”
Houve uma divisão neste coletivo: de um lado havia companheiros mais velhos que estavam tentando reinventar a roda e, por outro, eu e alguns outros que diziam: “Vamos ver o que podemos aprender com a experiência vinda dos Panteras e construir em cima dela e melhorá-la. Nós não podemos fazer as coisas da mesma maneira”. Enfatizamos a importância de uma perspectiva antissexista – uma velha questão dentro dos Panteras – mas do outro lado estava algo do tipo “eu não quero ouvir todas essas coisas feministas”. E nós dissemos: “Tudo bem se você não quer ouvir isso, mas queremos que as pessoas jovens ouçam, para que eles saibam sobre algumas das coisas que não funcionaram nos Panteras, para que eles saibam que nós tivemos algumas contradições internas que não poderíamos superar”. Nós tentamos forçar a questão, mas se tornou uma batalha e as discussões tornaram-se tão difíceis que uma separação ocorreu. Neste ponto, deixei o coletivo e comecei a trabalhar com grupos anarquistas e antiautoritários, que foram realmente os únicos a tentarem lidar de forma consistente com essas dinâmicas até o momento.
Uma das lições mais importantes que eu também aprendi com o anarquismo é que você precisa olhar para as coisas radicais que já fazemos e tentar incentivá-las. É por isso que eu acho que há muito potencial para o anarquismo na comunidade negra: muito do que já fazemos é anarquista e não envolve o Estado, a polícia ou os políticos. Nós tomamos conta um do outro, nós nos importamos com os filhos uns dos outros, nós vamos para o mercado uns para os outros, encontramos maneiras de proteger nossas comunidades. Até mesmo igrejas ainda fazem as coisas de uma forma muito comunal, até certo ponto. Eu aprendi que existem maneiras de ser radical sem ficar distribuindo literatura e dizendo às pessoas: “Aqui está o retrato da situação, se você enxergar isso, vai seguir automaticamente a nossa organização e se juntará à revolução”. Por exemplo, a participação é um tema muito importante para o anarquismo e também é muito importante na comunidade negra. Considere o jazz: é um dos melhores exemplos de uma prática radical existente porque ele assume uma conexão participativa entre o individual e o coletivo e permite a expressão de quem você é, dentro de um ambiente coletivo, com base no gozo e no prazer da música em si. Nossas comunidades podem ser da mesma forma. Podemos reunir todos os tipos de perspectivas de fazer música, de fazer revolução.
Como podemos nutrir cada ato de liberdade? Seja com as pessoas no trabalho ou as pessoas que passam o tempo na esquina, como podemos planejar e trabalhar juntos? Precisamos aprender com as diferentes lutas ao redor do mundo que não são baseadas em vanguardas. Há exemplos na Bolívia. Há os zapatistas. Há grupos no Senegal construindo centros sociais. Você realmente tem que olhar para as pessoas que estão tentando viver e não necessariamente tentando chegar com as idéias mais avançadas. Precisamos tirar a ênfase do abstrato e focar no que está acontecendo na base.
Como podemos construir com todas estas diferentes vertentes? Como podemos construir com os Rastas? Como podemos construir com as pessoas da Costa Oeste que ainda estão lutando contra o governo, por conta da mineração em terras indígenas? Como podemos construir com todos esses povos para começar a criar uma visão da América que seja para todos nós?
Pensamento de oposição e os riscos de ser oposição são necessários. Eu acho isso é muito importante neste momento e uma das razões pelas quais eu acho que o anarquismo tem muito potencial para nos ajudar a seguir em frente. E isso não é um pedido para aderirmos dogmaticamente aos fundadores da tradição, mas para estarmos abertos a tudo o que aumenta a nossa participação democrática, a nossa criatividade e nossa felicidade.
Acabamos de ter uma Conferência Anarquista de Pessoas de Cor em Detroit, de 03 a 05 de outubro. Cento e trinta pessoas vieram de todo o país. Foi ótimo para vermos nós mesmos e bem como o interesse das pessoas de cor de todo o Estados Unidos em busca de formas marginais de se pensar. Vimos que poderíamos nos tornar aquela voz em nossas comunidades, que diz: “Espere, talvez nós não precisemos nos organizar assim. Espere, a maneira que você está tratando as pessoas dentro da organização é opressiva. Espere, qual é a sua visão? Gostaria de ouvir a minha?”. Há uma necessidade para esses tipos de vozes dentro de nossas diversas comunidades. Não apenas as nossas comunidades de cor, mas em toda comunidade há uma necessidade de parar o avanço dos planos pré-fabricados e confiar que as pessoas podem descobrir coletivamente o que fazer com este mundo. Eu acho que nós temos a oportunidade de deixar de lado o que nós pensamos que seria a resposta e lutarmos juntos para explorar diferentes visões do futuro. Podemos trabalhar nisso. E não há uma resposta: temos de trabalhar com isso à medida que avançamos.
Embora queiramos lutar, vai ser muito difícil por causa dos problemas que herdamos deste império. Por exemplo, eu vi algumas lutas muito duras, emocionadas, em protestos contra a Convenção Nacional Republicana. Mas as pessoas se mantiveram bloqueadas, mesmo quem começou a chorar no processo. Não vamos superar algumas das nossas dinâmicas internas que nos mantiveram divididos, a menos que estejamos dispostos a passar por algumas lutas realmente difíceis. Esta é uma das outras razões pelas quais eu digo que não há uma resposta: só temos que passar por isso.
Nossas lutas aqui nos Estados Unidos afetam todos no mundo. As pessoas nas classes subalternas vão desempenhar um papel fundamental e a maneira como nos relacionamos com elas vai ser muito importante. Muitos de nós somos privilegiados o suficiente para ser capaz de evitar alguns dos desafios mais difíceis e vamos ter de abrir mão de parte desse privilégio, a fim de construir um novo movimento. O potencial está lá. Nós ainda podemos ganhar – e redefinir o que significa vencer – mas temos a oportunidade de promover uma visão mais rica da liberdade do que já tinha antes. Temos que estar dispostos a tentar.
Como um Pantera, e como alguém que passou à clandestinidade enquanto guerrilha urbana, pus a minha vida no limite. Eu assisti meus companheiros morrerem e passei a maior parte da minha vida adulta na prisão. Mas eu ainda acredito que podemos vencer. A luta é muito difícil e quando você cruza esse limite, você corre o risco de ir para a cadeia, ficar gravemente ferido, morto, e assistir seus companheiros ficando gravemente feridos e mortos. Isso não é uma imagem bonita, mas isso é o que acontece quando você luta contra um opressor enraizado. Estamos lutando e isso vai tornar tudo mais difícil para eles, mas a luta também vai ser difícil para nós.
É por isso que temos de encontrar maneiras de amar e apoiar uns aos outros através de tempos difíceis. É mais do que apenas acreditar que podemos vencer: precisamos ter estruturas consolidadas que possam nos ajudar a caminhar, quando sentirmos que não podemos dar mais nenhum passo. Acho que podemos mudar novamente se pudermos descobrir algumas dessas coisas. Este sistema tem que cair. Isso nos fere a cada dia e não podemos desistir. Temos que chegar lá. Temos que encontrar novas maneiras.
O anarquismo, se significa alguma coisa, significa estar aberto para o que quer que for preciso em nosso pensamento, em nossa vivência e nas nossas relações – para vivermos plenamente e vencermos. De certa forma, eu acho que são a mesma coisa: viver a vida ao máximo é ganhar. É claro que vamos e devemos entrar em conflito com os nossos opressores e precisamos encontrar boas maneiras de fazê-lo. Lembre-se daqueles das classes subalternas, que são os mais afetados por isso. Eles podem ter diferentes perspectivas sobre como essa luta deve ser feita. Se nós não podemos encontrar caminhos para nos encontrarmos cara-a-cara afim de resolvermos essa situação, velhos fantasmas reaparecerão e nós voltaremos à mesma velha situação em que estivemos antes.
Vocês todos podem fazer isso. Você tem a visão. Você tem a criatividade. Não permitam que ninguém bloqueie isso.