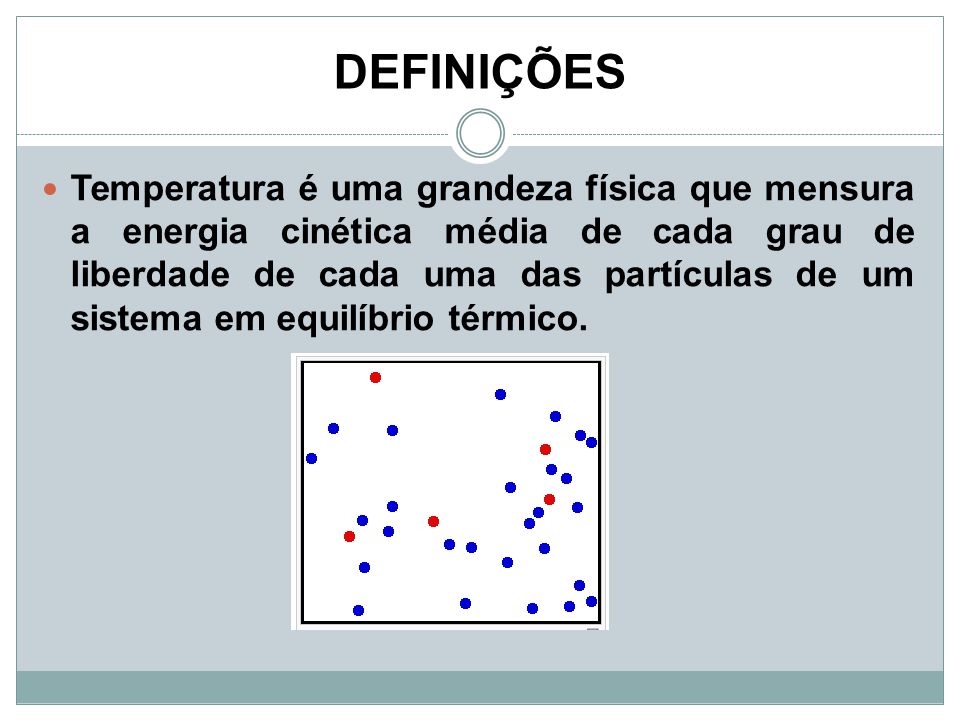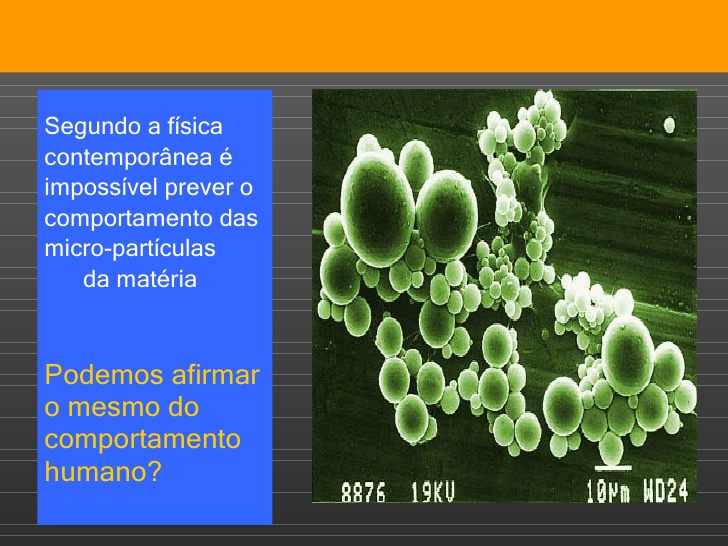David Priestland é um historiador britânico que no último dia 3 de julho publicou um artigo no jornal The Guardian, tradicional periódico progressista na Grã-Bretanha, a exemplo do extinto Jornal do Brasil. O autor argumento que depois da falência do socialismo de estado e do neoliberalismo ocidental é preciso voltar aos ideais anarquistas e aos ensinamentos de alguns dos seus teóricos, nomeadamente Peter Kropotkin. Reproduzimos a seguir uma tradução do artigo, que é mais uma prova da atualidade renovada – e da atração que continua a suscitar – do pensamento libertário.
O socialismo de estado falhou, tal como o de mercado. É preciso redescobrirmos o pensador anarquista Peter Kropotkin.
Por David Priestland

A peregrinação de fim de tarde de Ed Miliban (1) até ao apartamento de Russell Brand (2), dias antes do último acto eleitoral, foi vista pelos seus partidários como um golpe inteligente para atrair o voto da juventude e pelos seus críticos como uma tentativa embaraçosa de aproveitar o carisma do messias de Shoreditch (3). No entanto, nenhum dos pontos de vista traduz o seu real significado que é um sinal da profunda fraqueza da corrente dominante da social-democracia e dos seus desesperados esforços para cooptar as energias do elemento mais dinâmico da esquerda de hoje: o anarquismo. Na sua ânsia de ridicularizar as “divagações” de Brand, os comentaristas têm ignorado a sua forte identificação com a tradição da esquerda anarquista. De fato, entre as obras que ele recomendou aos seus seguidores há uma coleção de textos duma outra figura carismática, que viveu em Londres durante alguns períodos, o pai do comunismo anarquista: o príncipe Peter Kropotkin.
A comparação entre Kropotkin e Brand pode parecer forçada. Os antecedentes de Kropotkin, que foi o herdeiro de uma das maiores e mais antigas famílias aristocratas russas, estão muito distantes das origens humildes de Brand. Kropotkin era um erudito altamente qualificado, enquanto Brand – embora inegavelmente inteligente – tem desempenhado o papel de artista popular e de orador inspirado.
No entanto, como Brand, o exilado Kropotkin tornou-se uma figura popular em Londres, elogiado pela vanguarda artística e intelectual do fim do período vitoriano – de William Morris a Ford Madox Ford. Numa estranha antecipação do namoro Miliband-Brand, ele próprio recebeu o primeiro líder do Partido Trabalhista Keir Hardie na sua casa de Bromley. E, tal como as comparações satíricas que são feitas entre Brand e o filho de Deus, também Oscar Wilde descreveu Kropotkin como um “belo Cristo branco”.
Não é nenhuma surpresa que os sábios e profetas anarquistas estavam tão na moda tanto naquela época como agora. Na Europa, antes da primeira guerra mundial, as variantes do socialismo que colocavam a sua fé nas reformas sociais lideradas pelo Estado – a social-democracia e o marxismo-leninismo – ainda não tinham começado a eclipsar o seu concorrente anarquista. E agora que o otimismo estatizante acabou, uma esquerda revigorada pela crise atual do capitalismo global está à procura de alternativas mais adequadas à nossa era individualista.
Peter Kropotkin Alexeyevich, nascido em 1842, atingiu a maioridade em tempos conturbados. Humilhado pela derrota na guerra da Crimeia, em 1856, Alexander II decidiu fazer reformas na arcaica ordem aristocrática da Rússia, embora preservando os seus fundamentos, e a família Kropotkin era partidária do antigo sistema. Em jovem, Kropotkin foi treinado na academia militar de elite da Rússia, mas a sua capacidade intelectual fez com que fosse escolhido como pajem para a corte do czar. Depressa começou a desprezar o esnobismo obsessivo e cruel do antigo regime, identificando-se não com a nobreza, mas com os camponeses que tinham cuidado dele quando criança.
Esta aliança da empatia para com os pobres com o compromisso com a atividade intelectual, especialmente a nível da ciência, veio a definir a carreira de Kropotkin – fosse ao serviço do Estado czarista ou na realização da revolução anarquista. Enviado pelos militares para a Sibéria procurou melhorar a vida dos presos, ao mesmo tempo que conduziu expedições geográficas pioneiras. E uma vez no exílio, fora da Rússia (perseguido pela sua atividade revolucionária), dedicou-se a conciliar a sua indignação moral profunda pela desigualdade social com o seu amor pela ciência através do desenvolvimento de uma visão anarquista coerente – marcando-o para além do que tinham feito os seus predecessores anarquistas intelectualmente menos ambiciosos, Pierre -Joseph Proudhon e Mikhail Bakunin .
A síntese do pensamento de Kropotkin pode ser encontrada em dois dos mais importantes – e acessíveis – textos do anarquismo: “A Conquista do Pão” (1892) e “Campos, fábricas e oficinas” (1899). A sociedade, defendia ele, poderia ser organizada tendo como base as comunidades camponesas que viu na Sibéria, com a sua “organização fraternal semi-comunista”, livre da dominação seja do Estado, seja do mercado. E isso, insistia, não era mero saudosismo ou utopia, porque as novas tecnologias e a agricultura moderna tornariam tal desenvolvimento descentralizado altamente produtivo. Mas Kropotkin estava ciente, também, das necessidades do meio-ambiente, uma consciência que teve origem nas suas preocupações geográficas e científicas e é, por isso, justamente considerado um dos teóricos pioneiros das políticas verdes e ecológicas.
Ele também baseou a sua visão do anarquismo na ciência evolucionista. No livro “Apoio Mútuo“ (1902) defendeu que as comunidades fundadas na igualdade radical e na democracia participativa eram viáveis porque a natureza humana era cooperativa de uma forma inata. Ao contrário dos darwinistas sociais, como Herbert Spencer, que argumentavam que todas as formas de vida tinham evoluído através da “luta pela existência” e da concorrência entre organismos, Kropotkin insistiu que havia outro tipo de luta mais importante – entre os organismos e o meio ambiente. E nesta luta, a “ajuda mútua” era o meio mais eficaz encontrado para a sobrevivência.
Entre os anos de 1880 e 1920, a influência do anarquismo comunista de Kropotkin competiu com o marxismo mais estatista e ganhou muitos adeptos entre os intelectuais, camponeses e operários, especialmente no sul da Europa e nos Estados Unidos (incluindo os “Wobblies” – os trabalhadores industriais do mundo (4)). Na Ásia, o anarquismo impregnava a ideologia do Partido Comunista Chinês, e serviu de base às campanhas de desobediência civil indianas de Gandhi – embora este estivesse mais próximo do anarquismo mais religioso de Tolstói.
Mas as próprias lutas travadas pelos anarquistas acabariam por ser perdidas, em parte porque o seu compromisso com a participação democrática minou a sua capacidade de viabilizar organizações de massas estáveis e porque foram prejudicados pela violência defendida por alguns grupos anarquistas (contra a opinião de Kropotkin), o que provocou uma repressão estatal implacável. Porém, o seu destino ficou selado por uma mudança intelectual mais ampla, com o aumento do prestígio do papel dos Estados na sequência da guerra total – especialmente nas décadas de 1950 e 1960, quando quer o leste comunista e o ocidente capitalista apresentavam visões rivais de “modernização” liderada pelo Estado.
Atualmente, os Estados decaíram mais uma vez na estima popular, atingidos desde a década de 1970 pela crise da economia keynesiana e comunista, e pelo surgimento dos valores dos anos 60, que valorizam a auto-afirmação individual e a realização pessoal por cima da lealdade aos Estados-nação e a outras instituições centralizadas.
Este individualismo é particularmente forte entre as pessoas mais instruídas e entre os jovens, tal como era entre os boêmios da Inglaterra vitoriana. E não é nenhuma surpresa que o anarquismo se tenha tornado relevante novamente no espaço na esquerda nos últimos anos – desde os “anti-globalização” de finais de 1990 ao movimento Occupy de 2011. De fato, o principal teórico do Occupy, David Graeber, é um entusiasta de Kropotkin.
Os desafios do anarquismo permanecem praticamente os mesmos que existiam na época de Kropotkin. Como pode um grupo que suspeita tanto das organizações estabelecidas construir um movimento que seja eficaz a longo prazo? Como é que pode conquistar uma maioria de pessoas viciadas em um crescimento infinito e em padrões de vida cada vez mais elevados? E como pode a sua sociedade ideal, fundada sobre a democracia participativa local, controlar as enormes concentrações de poder existentes nos Estados e nos mercados internacionais?
No entanto, muita coisa mudou a favor do anarquismo. Uma sociedade mais educada está a tornar-se cada vez menos dócil e, possivelmente, menos materialista. Enquanto isso, a falência quer do Socialismo de Estado em 1989, quer do capitalismo global em 2008, e a sua incapacidade flagrante para lidarem com a degradação ambiental, põem em questão, como nunca até hoje, a forma como vivemos. Kropotkin não é nenhum messias, mas os seus textos levam-nos a imaginar politicas que nos poderiam, de fato, ajudar a salvar o mundo.
Notas do tradutor:
(1) Antigo líder do Partido Trabalhista britânico. Demitiu-se depois da derrota do seu partido nas eleições legislativas de 7 de Maio de 2015.
(2) Ator e comediante britânico, que se tem assumido como anarquista em múltiplas entrevistas e declarações.
(3) Zona de Londres em que vive Russell Brand.
(4) Industrial Workers of the World – sindicato inspirado no sindicalismo revolucionário e no anarco-sindicalismo com grande expressão nos Estados Unidos e Canadá. Ainda existe, embora com muito menos influência do que a que tinha nas décadas de 1910 e 1920.